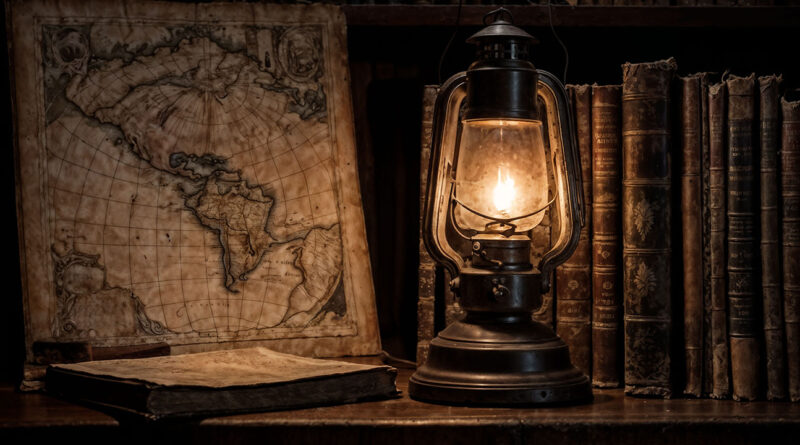O luto da luta: como lidar com as perdas na própria militância? | Artigo de Karina Oliveira Martins
Ouça a matéria!
A realidade está desesperadora. Para todo lado que olhamos é desmotivante e lastimável: genocídio na Palestina, perda contínua de direitos trabalhistas e sociais, sofrimento profundo generalizado, grandes queimadas contínuas, combate a parcos direitos ao aborto, crescimento contínuo da extrema-direita, entre tantas outras desgraças. Tudo vai construindo um cenário de aparente colapso civilizacional. O fim dos tempos parece estar logo ali e diante disso, qualquer transformação de melhora significativa parece impossível e a vontade que por vezes dá é só de jogar a toalha.
Mas engolimos seco e bradamos: “vamos à luta”. E eu não tenho dúvida de que se há uma saída é essa. É na construção de solidariedade e enfrentamento coletivo e organizado ao capital que a barbárie pode ser freada e se findar. Só que para efetivamente este brado ter um valor maior que um mero grito esvaziado de desespero, que já não convence nem quem grita, é necessário se haver com as particularidades de nosso tempo e os desafios concretos que isso coloca para a questão da construção das lutas e organizações.
O cenário histórico atual, como mencionado antes, é de perdas contínuas, em uma realidade cada vez mais atomizada, carente de uma cultura coletiva para lidarmos com tais perdas e de tempo para assimilá-las. O que se desdobra em perda de força coletiva e de horizontes políticos, como bem expressa a frase que ficou famosa com Mark Fisher de que “é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo”.
Uma realidade de perda não é nova para a classe trabalhadora e sua parcela organizada. Como bem coloca Enzo Traverso, “a história do socialismo é uma constelação de derrotas”. Se chegamos até aqui é porque estamos reiteradamente perdendo e continuaremos perdendo. Ainda que haja conquistas pontuais e importantes, enquanto um novo horizonte não se impor, isto é, enquanto a sociedade capitalista não for destruída e uma sociedade comunista autogestionada não for construída, estaremos perdendo. Assim, o nosso campo de batalha, historicamente, se dá nas ruínas, sob elas e no que resta delas depois das lutas. Por isso, o autor nos fala de uma cultura melancólica de esquerda no século XX.
O autor desenvolve sobre a especificidade de nossos tempos de capitalismo neoliberal, de um tipo de melancolia infrutífera, incapaz de encontrar algo para transcendê-la. Uma melancolia vinculada a uma visão trágica do mundo, em que tal visão “deriva de um sentimento de desespero. A tragédia surge quando não se logra vislumbrar nenhum horizonte, quando as pessoas se sentem perdidas em definitivo. Esse é o motivo, segundo Raymond Williams, de as tragédias e as revoluções se excluírem reciprocamente.
Como visão teleológica da história, o socialismo não admitia tragédia. Ele historicizou e “metabolizou” derrotas, diminuindo ou remoendo seu caráter doloroso e, por vezes, devastador. A dialética marxista da derrota se transformou em uma teodiceia secular: o bem poderia ser extraído do mal; a vitória final resultaria de uma série de derrotas.”
Visão trágica que transcende o campo da esquerda e se constitui como uma realidade generalizada de nossos tempos. E poucas coisas contam isso tão bem quanto o trágico índice de suicídio. O relatório ”Suicide worldwide in 2019“. da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicado em 2021 aponta que o suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo, a ponto de anualmente mais pessoas morrerem como resultado de suicídio do que HIV, malária ou câncer de mama — ou guerras e homicídios. Em 2019, mais de 700 mil pessoas morreram por suicídio: uma em cada 100 mortes. E entre os jovens a situação é um tanto mais grave, a ponto do suicídio ser a quarta causa de morte mais recorrente entre os jovens de 15 a 29 anos, atrás de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal.
Em 2023, “o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou 11.502 internações relacionadas a lesões em que houve intenção deliberada de infligir dano a si mesmo, o que dá uma média diária de 31 casos. O total representa um aumento de mais de 25% em relação aos 9.173 casos registrados quase dez anos antes, em 2014”. E novamente os jovens apresentam índice mais elevados. “Em relação à faixa etária, o grupo de 20 a 29 anos foi o mais afetado em 2023, com 2.954 internações, seguido pelo grupo de 15 a 19 anos, que registrou 1.310 casos”.
Os números são alarmantes e a especificidade da juventude escancara uma realidade que já não promete futuro, ou melhor, promete o futuro da catástrofe. Estamos em uma realidade mortificante que produz sujeitos mortificados que cada vez mais flertam com a morte, a nível físico e subjetivo. Um circuito fechado que mina a produção do novo, de movimento, de desejo. Uma crise estrutural do capitalismo que mói corpos e almas em vida e não cessa de lucrar com isto.
Diante disso, que podemos chamar de uma crise da subjetividade, colocam-se questões primordialmente novas para a militância, tais quais, como nos organizarmos em uma realidade em que as pessoas estão profundamente tristes, desmotivadas e solitárias? Como nos organizarmos em uma realidade em que as pessoas querem morrer — ou ao menos já não têm tanta vontade de viver? Como mobilizar uma juventude que já não acredita no futuro? Em uma realidade em que as pessoas estão capturadas pelas próprias dores a ponto de travarem lutas diárias para conseguir manter sua própria funcionalidade? Como construir algo sólido no meio disso? Como as organizações e as lutas podem construir uma contra-tendência a tal realidade trágica?
Não é raro que em resposta a isto haja um novo brado: do luto à luta. E temos bons exemplos disto, como as Mães de Maio. Só que a restrição a tal slogan oculta que a própria luta produz novos lutos.
Que a própria militância, que pode produzir novos lapsos de vida, também pode mortificar e intensificar a tragédia. A recusa de ir além dessa questão ao colocar de imediato a luta como saída sem se haver com o tipo de luta e organização que tem sido construída é uma recusa a se implicar na questão, o que garante a permanência da derrota e sua não metabolização.”
Se quisermos lidar seriamente com a questão colocada, a resposta fácil da luta como saída não basta. A militância e a luta não são uma resposta acabada, elas colocam novas questões em movimento. Precisamos pensar que luta é esta, que dinâmica é esta, que organização é esta existente e se elas estão sobrepondo a vida à morte ou meramente reproduzindo dinâmicas de derrotas e massacres. Para isto, se faz necessário uma implicação enquanto sujeito na questão, sujeito coletivo, e apreender as dinâmicas da militância e o quanto ela também pode ser um espaço de moer gente.
Lutar junto, sofrer sozinho
A gente luta junto, mas sofre sozinho, ainda que por coisas comuns. A militância traz uma sequência de perdas e derrotas: violência policial, prisões, diversas formas de violência do Estado, retaliações, acusações, atividades esvaziadas, pauta derrotada, discussões desgastantes e inócuas, violências entre os próprios militantes, rachas internos, a lista é longa. Não saímos impunes de nenhuma violência do Estado, nenhum assédio moral, de nenhuma derrota para o inimigo, tampouco, das derrotas para nós mesmos, seja da incapacidade de mobilização ou da rasteira vinda dos nossos. Quando vindo do inimigo o ataque ameaça nossa segurança física, financeira, psicológica e jurídica e por vezes coloca em risco nosso futuro — ou presente — profissional. É sentir no corpo a injustiça e brutalidade do capital, seja do Estado e suas instituições ou das empresas. Só que talvez seja ainda mais desgastante a rasteira que vem daqueles que considerávamos camaradas.
Isso massacra nossos ideais, nossa capacidade de confiança, nossas certezas basilares — se não podemos confiar nos nossos, naqueles que dizem querer mudar o mundo e dizem e fazem coisas tão incríveis, o que resta? É algo que desorganiza profundamente o psiquismo e por vezes nos demanda posicionamentos rápidos e enérgicos num ritmo que nem conseguimos assimilar. Tamanhas perdas se dão em um contexto que precisamos analisar conjuntura, fazer decisões acertadas, disputas permanentes, leituras constantes, tentativas de mobilização, um monte de tarefa contínua que exige tempo e dedicação e respostas rápidas.
Nessa realidade em que há tantas demandas parece não sobrar tempo para se haver com esses efeitos da própria luta nos lutadores. As violências acontecem, a brutalidade acontece, se muito, resolvemos do ponto de vista objetivo — o que é fundamental — com aparato jurídico, divulgação, apoio financeiro e à depender vemos a possibilidade um apoio psicológico individualizado profissional. Se foi algo interno há um posicionamento — ou só um racha mesmo — quem quiser que fique, quem quiser que saia, e continuamos. Continuamos e continuamos respondendo as demandas, a tentar fazer luta sob as ruínas do luto. Lutos a partir da luta, luto na luta e por vezes, luto da luta.
Em um momento histórico de movimentos massivos e generalizados, em que apesar de toda violência do capital estava colocado um horizonte revolucionário, como em 1848, 1917, 1968, em que de alguma forma, parecia possível tomar o céu de assalto, em que havia uma cultura proletária — não meramente de esquerda — com produção de filmes e revistas, ateneus libertários, espaços comuns de convivência, uma vivência massificada e diária nos locais de trabalho e nos sindicatos, criava-se a possibilidade de uma lida coletiva com as ruínas, em que nos próprios espaços coletivos as derrotas iam sendo metabolizadas e elaboradas, abrindo vias para o novo, ou mesmo que as ruínas não impactassem tanto, já que as vias de abertura para uma revolução pareciam abertas, o futuro vitorioso estava logo ali.
Pode ser que uma cultura coletiva e laços coletivos cotidianos, assim como um horizonte de transformação dessem conta da assimilação das experiências dos lutadores com suas dores e/ou que a construção das lutas sob as ruínas, sem se haver com as ruínas, era uma realidade possível que não provocava grandes danos. Pode ser fácil, ao menos mais tolerável, se abdicar, aguentar e só ir atropelando as próprias questões quando a revolução parece estar logo ali, mas porque permanecer fazendo isso quando só parece haver inferno? E qual o custo de permanecer?”
Independentemente dos “pode ser”, hoje, em uma realidade de deterioração das relações de trabalho e das relações humanas, e como tal, deterioração das próprias subjetividades, de atomização dos laços sociais, de perda dos espaços coletivos de vivência e cultura de classe, um forte individualismo, de esvaziamento dos espaços de militância e de uma visão trágica da realidade, se haver com tal ruína é uma questão primordial de manutenção da militância, isto é, de manutenção a médio e longo prazo dos militantes na militância e da existência de organizações, assim como a criação de um horizonte de transformação possível.
Na medida em que as experiências comuns de derrotas, dificuldades, dores e violências vividas na militância não são elaboradas conjuntamente por aqueles que a viveram, o objeto perdido permanece se impondo. O caráter doloroso e a devastação permanecem intocados, mantendo a derrota profundamente viva.
Não estou dizendo que os espaços de militância devam virar grupos terapêuticos, estou pontuando que a ausência de uma lida coletiva com as perdas e violências coletivas traz consequências para as lutas e organizações, faz com que o morto imponha-se sobre o vivo. Permanece um mal-estar não elaborado, um não-entendimento comum mínimo do mesmo acontecimento vivido, em que a gente segue como se aquilo não tivesse deixados marcas individuais e coletivas que seguem marcando a experiência da militância, na medida em que aquilo não é encarado. Um certo pacto de negação se dá, na medida em que não se fala mais sobre aquilo e de seus impactos, nega-se a vivacidade de determinada situação.
Se vive conjuntamente a experiência, mas as consequências subjetivas delas vão sendo levadas exclusivamente para as relações de amizade, amorosas e terapêuticas, de forma, que se luta junto, mas não se fala junto sobre a experiência de militar, sobre um entendimento partilhado do vivido. Uma análise da vivência coletiva daqueles sujeitos na luta. O que as pessoas que estão militando estão entendo das suas próprias ações, como essas pessoas estão a respeito da própria militância? Qual o sentido de estar ali? Como enquanto militantes elas têm assimilado o vivido? O que tem ficado das últimas experiências? Como as derrotas, para os inimigos e as internas, estão se manifestando naquele espaço? O que está insuportável de assimilar? Como tem sido permanecer ali? Há vontade de permanecer?
Conversar sobre nós: lembrar que é sobre as pessoas
Para tentar deixar a coisa menos abstrata trago um exemplo. Em 2023, puxado por professoras da Faculdade de Letras, houve na UFG (Universidade Federal de Goiás) uma atividade para homenagear e relembrar as Jornadas de Maio/Junho de 2013, da qual, apesar do apagamento histórico, Goiânia foi uma das cidades fundamentais, junto com Porto Alegre, Natal e Teresina. Diversos militantes da época se reuniram para falar sobre o ocorrido. Sendo que muitos de nós continuávamos a nos ver com frequência e éramos amigos, mas ironicamente nunca tínhamos falado do que realmente importava. Demoramos 10 anos para nos escutar.
Foram mesas, em geral esvaziadas, o que foi fundamental para construir um clima intimista em que parecia que falávamos para nós e não só sobre nós. Isso permitiu também certa informalidade, com falas que ainda que tivessem sido previamente pensadas, fossem se desenrolando de forma um tanto espontânea. E o formato com tempo de fala de uns 20 a 30 minutos permitiu um tempo necessário para desenvolver as ideias. E esse formato foi fundamental. Nunca tínhamos feito nada parecido na militância. E aqui vale perguntar, quando na militância construímos atividades com os nossos e para os nossos em que há um tempo significativo e contínuo para desenvolver com calma pensamentos próprios? Em que a gente para a fim de se escutar, tal como paramos para ver mesas de debates e afins? E nesse caso, quanto paramos com tempo para pensar a própria experiência, as próprias memórias, as próprias questões enquanto grupo.
Quando a gente fala sobre isso? Nesse caso não falo de discussões teóricas e nem de análises conjunturais, mas de atividades internas com os militantes que estão ali construindo diariamente — e por vezes pouco falam — sobre o que estão percebendo daquelas lutas, sobre como estar participando delas, o que que “tá pegando”, sobre o que estão pensando sobre o que estão vivendo e o que ficou depois dela. Todo mundo pensa e tem algo relevante a dizer, a questão é como criar espaços que fomentem estas falas e que reconheçam sua importância.”
Foi esse formato que permitiu olharmos para aquela experiência e muita coisa ali foi entendida. Estávamos todos ali porque aquela experiência transformou as nossas vidas e queríamos não só relembrar, mas entender, havia muita coisa que não entendíamos e que só era possível de ser construída e entendida juntos. Ao menos foi isso que ficou para mim.
Depois de 10 anos eu soube do que se passou com a advogada do movimento, os perrengues, as vezes que quase desistiu, os assédios dos delegados, a paranoia e ansiedade constante que quase a fez desistir. Nunca tinha me dado conta das minúcias dos riscos e exposição de advogar pro movimento. Soube do midiativista, o que o mobilizava, de onde veio a ideia, como a edição era feita, dos medos ali presentes, entre tantas outras facetas da luta.
Ao escutar o que foi vivido, como foi vivido e o pensamento sobre isto, deu para entender melhor a grandiosidade de tudo aquilo, o quanto foi efervescente na produção de novas ideias, iniciativas e projetos e como estas retroagiram no movimento. Deu para entender mais concretamente porque aquilo foi grande para todos, o que levou alguns a se afastarem, os custos pessoais e profissionais daquilo, os riscos presentes, a excitação vivida, os afetos mobilizados, as inúmeras ações cotidianas que tudo aquilo demandava e a relevância das diversas pessoas e inúmeras ações. Aquilo mobilizou profundamente uma quantidade enorme de pessoas que acreditaram e se entregaram de um modo único, mesmo não indo nas reuniões. A grandiosidade do movimento se deu justamente por uma articulação que transcendia em muito o próprio grupo mobilizador com movimentações vivas e simultâneas que fugiam do controle de tal grupo, a Frente de Lutas. Sem essa multiplicidade e vivacidade nada daquilo teria acontecido. Formou-se uma espécie de frente de frentes. Facetas cotidianas, estéticas, subjetivas e uma certa organização subterrânea e parcialmente espontânea foi possível de ser apreendida ali.
E deu para entender melhor também a faceta trágica da luta, o nível de repressão a que fomos submetidos, foi muito além das prisões e bombas de gás em manifestações. Se dava diariamente em cada canto das construções da luta, com intimidações, insinuações, riscos reafirmados a todo tempo e que, em geral, cada um lidava sozinho. E o impacto foi profundo. Só que tal como quando se tem um machucado profundo e não o sente na hora da adrenalina, a dor vem depois, quando a poeira abaixa. O impacto vem com tudo é na ressaca das lutas. É aí onde os movimentos falham, na incapacidade de amortecer as próprias perdas e derrotas, mesmo aquelas que aparecem com as conquistas.
Na medida que o movimento não se generaliza, radicaliza e enraíza, a ressaca é certa. Claro, não dá para prever suas minúcias e intensidade, mas questões mínimas, como a atomização, retaliações e debandada do movimento é previsível. Construir a saída de uma luta é tão fundamental como construir seu começo. É no fim que, exaustos e atomizados, vamos buscar saídas meramente individuais. E não precisa estar precisamente sozinho para estar atomizado, mesmo com a permanência da coletividade após o ápice da luta, na medida que a própria experiência das pessoas não encontra espaço na própria organização e momentos coletivos, em que o que fica são só as grandes narrativas dos grandes acontecimentos, ocultando a pequenez das pessoas diante de tudo aquilo, o que resta é a busca de resposta individual para aquilo que parece que não pode ser falado naquele espaço, como se não houvesse espaço para expressar a dimensão trágica de tudo aquilo. Facilmente, resta o afastamento, o álcool e demais drogas, uma compulsão tarefeira com a própria militância, formas diversas para tentar abafar e silenciar as ruínas. Se muito, uma psicoterapia individual, a fala privativa e individual de toda aquela experiência coletiva.
É justamente nesse momento que é primordial estarmos juntos, nos escutarmos, darmos espaço também para o trágico e metabolizarmos o luto para dar contornos às dores e construirmos algo a partir disso, caso contrário, a chance de só sermos devastados é gigante.
Há um saber sobre a militância que só os militantes ao se posicionarem enquanto tal e falarem abertamente entre si sobre a própria experiência são capazes de produzir. Não digo isso partindo da ideia de lugar de fala, tampouco, de desqualificação da produção teórica, quero dizer somente que a construção da militância permite a construção de um saber único sobre o que se faz e o que se vive e mesmo sobre o entendimento da conjuntura política. Há um ângulo só capturável por quem viveu as cenas e as cenas só vão ganhando sentido sendo costuradas juntas com tantas outras. É algo diferente da produção teórica e um não substitui o outro. A ausência desses espaços de partilha de experiências implica uma ausência de construção de saberes militantes e com isso, algo de muito valioso sobre as lutas sociais e as pessoas na luta é perdido. Do ponto de vista individual, muito de nós se perde ali, lacunas de nossas próprias histórias, que poderiam ter destinos outros se falássemos juntos sobre o vivido. Nesta produção de saber alguma coletividade radical e horizontalidade pode realmente se dar, ou ao menos se aproximar, ali caem os intelectuais dos grupos ao permitir uma questão que todos tenham algo a dizer, que todos participem ativamente e que os intelectuais, para construírem algo relevante, precisam, naquele momento, se despir da teoria e falar de si em primeira pessoa.
Falta lugar para analisarmos a nossa história vivida, para dar lugar para as memórias e experiências coletivas enquanto sujeitos coletivos. Darmos lugar para os afetos, impressões,acontecimentos ali vividos que de alguma forma permanecem vivos, que nunca ficam lá atrás, tornando-se fantasmas que assombram o presente. Sem isso a própria luta aparece como algo indecifrável para os próprios lutadores.
Há de se ponderar que talvez somente com certo distanciamento temporal, em um contexto em que não há mais nada a defender e disputar, seja possível tamanha abertura e honestidade.
No entanto, independente do distanciamento temporal, sem a tentativa de construção desses espaços, especialmente nas ressacas das lutas, continuaremos a ver uma dispersão em massa das pessoas dos grupos, muito dos quais com muito ressentimento e mágoa da militância. Ou, ainda que não ressentidas, profundamente devastadas. Por vezes saindo mais fatalistas que entraram, numa antipedagogia da luta. Continuaremos a naturalizar esse massacre subjetivo ao fingir que ele não existe, mascarando-o como um problema individual e reproduzindo uma cultura meritocrática em que assumimos que permanecem os que “dão conta”, “os fortes”, os realmente comprometidos, notadamente, os com mais capital político e intelectual e com mais condições financeiras, e que ainda assim vão sendo moídos também. Sem dar conta da construção na ressaca, continuaremos a naturalizar a militância esvaziada e assumir que é assim mesmo.
Continuaremos a reproduzir relações alienantes com nossos supostos camaradas, em que tal como nas relações alienadas de trabalho, só importa a sua função, a sua utilidade para cumprir tarefas. Continuaremos a tratar a luta como a resposta, sem nos indagarmos quais perguntas não respondidas ela vem produzindo. Enfim, continuaremos intensificando a miséria subjetiva e o isolamento, reproduzindo a desmotivação e o individualismo no seio das lutas e organizações coletivas. Seremos agentes da nossa própria tragédia.”
Trata-se da criação de momentos coletivos de fala-escuta para lidarmos coletivamente com os efeitos da luta. Uma reconstrução de uma cultura minimamente coletiva, que confronte o presentismo, imediatismo e individualismo e dê lugar para as memórias, experiências e subjetividades coletivas, fazendo dela força motriz para a luta. Um confronto a um apego nostálgico e a negação do passado, que fazem-no mais vivo do que deveriam e impede abertura ao novo.
Sem isto, o abandono da militância, a privatização dos problemas coletivos e a drogadição generalizada e desenfreada tendem a ser a via privilegiada de lida com tais problemas, o que vai só produzindo novos problemas dentro da militância. Ironicamente, despolitiza-se dentro das organizações políticas o próprio mal-estar coletivo dos militantes. Não que a militância vá resolver isso, não que ela produza isso isoladamente e seja a grande responsável por tal mal-estar, como disse no começo do texto, trata-se do momento histórico do capitalismo que estamos vivendo. O ponto é que ao não se implicar e reconhecer-se como sujeito neste processo, que também reproduz as próprias mazelas de seu tempo, as organizações vão mecanicamente atuando na reprodução e intensificação da miséria capitalista, sendo incapazes de tentar criar contra-tendências a tal barbárie, tornando-se agentes do que confrontam.
Reitero, que não se trata de terapia em grupo. Trata-se de partilhar os desdobramentos da luta para os que lutam. Não a mera luta sem sujeito, não A luta, como se fosse uma entidade metafísica, e sim o sujeito das lutas com o seu luto nas/das lutas. Da construção de um saber comum sobre o vivido que permita fazer algo que não meramente esconder as ruínas. A reconstrução de uma cultura coletiva e relações de camaradagem, que permita um reposicionamento, uma transformação a partir do mal-estar comum e generalizado – porém silenciado – que enfrente a visão trágica e permita novos horizontes de luta e de vida.
 Karina Oliveira Martins possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Goiás (2016) e mestrado em Psicologia, na linha Bases Históricas, Teóricas e Políticas da Psicologia, pela Universidade Federal de Goiás (2019). Atua com psicóloga clínica. Tem interesse , atuando principalmente nos seguintes temas: vida cotidiana, ideologia, revolução, psicologia social crítica e revolução espanhola. Atua em temas como: subjetividade neoliberal, marxismo, movimentos sociais, psicanálise e vida cotidiana.
Karina Oliveira Martins possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal de Goiás (2016) e mestrado em Psicologia, na linha Bases Históricas, Teóricas e Políticas da Psicologia, pela Universidade Federal de Goiás (2019). Atua com psicóloga clínica. Tem interesse , atuando principalmente nos seguintes temas: vida cotidiana, ideologia, revolução, psicologia social crítica e revolução espanhola. Atua em temas como: subjetividade neoliberal, marxismo, movimentos sociais, psicanálise e vida cotidiana.