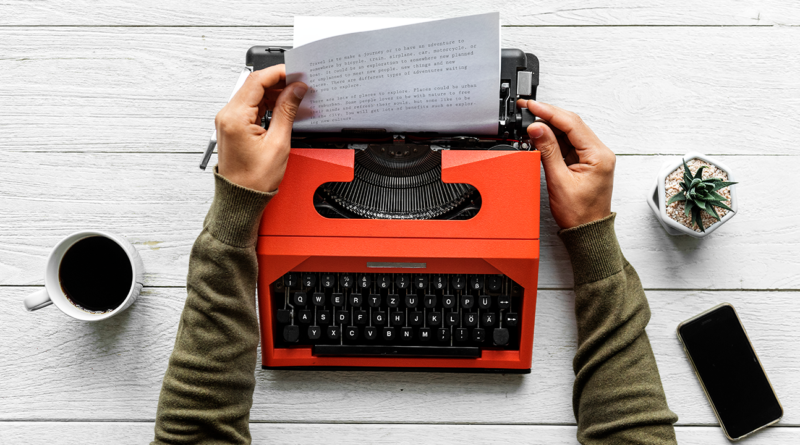Quando o que resta são ruínas noticiosas | Artigo de Wellington Felipe Hack
Ouça a matéria!
O jornalismo é o conhecimento do presente social, declaramos nós, jornalistas, com mais orgulho do que deveríamos ter. Não que a vergonha devesse sobressair em nossa prática, mas a crítica àquilo que produzimos tampouco deveria ser lida apenas na efemeridade de nossas produções noticiosas. Devemos, sim, afirmar que o jornalismo é conhecimento social – mas também superar o presentismo que agarramos como nossa âncora de escrita e contribuição para a sociedade.
Assim como na produção do conhecimento científico, há métodos, paradigmas, textualidades e éticas que fazem do jornalismo uma prática do saber. O mesmo orgulho que devemos ter de nossas produções não deve cegar para um dos crimes que cometemos – mais por hábito do que por intencionalidade. Assim como somos culpados e beneficiários de um assassinato – o do tempo significativo a favor do tempo cronológico –, também sofremos com o fardo de conceber o conhecimento para e junto à sociedade em uma perspectiva distorcida.
Talvez esse texto se inscreva em um não-lugar – um interregno – que pode ser reprovado por certas correntes inflexíveis. Críticas que são acolhidas e aceitas, mas que não têm força suficiente para suprimir as bases de sua construção. A escrita aqui posta defende: a revolução não veio, não está vindo e não virá. Aguardar por ela como a única saída de nosso tempo é tornar possível – cada dia mais – os fins dos mundos – mas não o fim do sistema capitalista, heteronormativo e tecnofacista.
Se como jornalistas queremos superar as estruturas determinantes de um tempo corroído por inúmeras falhas, precisamos, antes, compreender que binarismos não são formas únicas de ler a realidade. Antes, há inter-lugares nos quais nossa prática pode e deve estar inserida. Não há certo e errado, não há o fim da história como o caminho do progresso, tampouco há um princípio universal que rege toda a sociedade e que se manifesta por meio de conflitos e superações.”
Outrora lido como uma prática meramente informativa, condicionada pelas estruturas de capital, servindo aos mandos de Ordem e vigilância do correto agir na sociedade; é chegado o momento de o jornalismo se reconhecer como um instrumento para o imaginar. Não sonhos avulsos, sem significados ou com significantes impostos por um sistema que destrói todas as estruturas do pensar. Se o jornalismo quer ter orgulho de ser uma forma social de conhecimento, contribuindo para a emancipação social, precisa antes reconhecer seus potenciais simbólicos.
O primeiro passo é olhar para a sua volta e ver as fraturas sociais cada vez mais expostas, mais visíveis e alargadas. A velha sociedade rachada, machucada e com seus determinantes em cheque pelos sujeitos – embora ainda sem saber para onde vai. Se Hélène Cixous nos permitir o uso de sua metáfora: ao olhar para essas fraturas, é o momento de o jornalismo ver que a linguagem – seu suporte e sua potência – não é um tecido composto por fios de histórias e de memórias que tecem significados, mas de fissurar o sólido e árido terreno secular da linguagem em busca de novos significantes. Porque o fascismo do jornalismo não está em ferir e violar os determinismos da sociedade, mas de sepultar qualquer tentativa de violência contra a realidade estabelecida.
Quando a emergência climática ameaça a existência de nossos mundos – não como reação, mas como espelho de nossa conduta –, é o momento de jornalistas reclamarem um novo conhecimento social em sua prática cotidiana: não queremos mais tecer histórias, é o momento de começarmos a fincar palavras e saberes no cotidiano, por meio de nossa prática, que possibilitem outra sociedade, uma nova realidade, um pensar distinto.
Queremos recusar o conhecimento que durante muito tempo foi produzido pelo jornalismo. Um de seus crimes mais brutais contra a sociedade. Pautado no aqui e no agora, um conhecimento que desestabilizou as bases do imaginário coletivo, que pressionou a leitura da realidade para sua efemeridade e sua pretensa totalidade de significados. Por meio de sua prática, o jornalismo teceu saberes hegemônicos e instrumentais ao capitalismo – os fios que formavam seu discurso buscavam não apenas ocultar outras realidades possíveis, mas consolidar apenas um terreno para se caminhar.
Não são poucas as análises que mostram o jornalismo como um agente de vigilância e de Ordem na sociedade. Ou, então, de como deveria ser o comportamento normativo no seio de uma comunidade. Qualquer desvio padrão, qualquer questionamento do modelo vigente, deveria ser apontado, sinalizado e sua correção indicada pela e na notícia. O conhecimento jornalístico informava a realidade ao mesmo passo que determinava como aquilo que é deve sempre ser.
O discurso jornalístico olhava para o que restava da realidade e organizava seus fragmentos de modo a não possibilitar que as fraturas sociais fossem pensadas. Ora agindo como detentor do saber sagrado do passado, retomando os acontecimentos diários a partir de uma leitura que seria única e coerente com o momento de sua materialização. Ora atualizando o presente como futuro e arrefecendo qualquer tentativa do porvir, apontando quais deveriam ser os acontecimentos futuros em concordância com a leitura do agora e de suas orientações atuais.
Se esse é o conhecimento social que propagamos, então nosso orgulho de criar uma forma de saber é mera vaidade profissional.”
Felizmente, podemos escolher outro caminho: mais duro, mais crítico e com um olhar para aqueles que sempre foram meros objetos – sem qualquer tipo de subjetividade – da prática jornalística. Para isso, precisamos parar de tecer discursos e passar a inserir em um terreno árido, de forma dolorosa por vezes, novos saberes. Nas fissuras que assustam, que machucam, que atemorizam, é que o jornalismo encontra a sua força. A possibilidade de inscrever o diferente, o Outro, sempre esteve na linguagem, mas é preciso encontrá-la e forçar sua manifestação.
Todo jornalista sabe como isso acontece. Esse saber foi dado na prática de entrevista com mulheres, pretos, indígenas, LGBTQIAPN+, pobres, imigrantes, crianças e deslocados. Tantos grupos que tiveram seus direitos fundamentais violados e que, postos à margem da sociedade, têm seus conhecimentos sufocados pela hegemonia do conhecimento padrão que o jornalismo tentava transmitir. Nas conversas com subjetividades feridas, jornalistas não encontram fios para serem pegos e inscritos em suas textualidades.
Como tecer um discurso quando o que se apresenta ao jornalismo são fragmentos soltos, deslocados e não passíveis de tessitura? O que fazer quando esses pedaços de vida não podem ser lidos pelo presente nem trabalhados com vistas ao futuro?
Daqueles que sempre tiveram seu direito de produzir conhecimentos negado, não se pode esperar que consigam apresentar seus fios discursivos. Quando há muitos “outros” que compõem a voz do entrevistado, há um claro sinal de que aquele saber nunca foi legitimado – os “outros” que falam talvez não existam de fato, mas a subjetividade do conhecimento não tem força para se apresentar como um Eu para além do estabelecido. Assim também se dá com frases inconclusas e repetição de detalhes ou de palavras – isso apenas porque não há, como presença real, um conhecimento capaz de deduzir da realidade algo novo sem vir acompanhado do temor de ser reprimido.
Nesse momento, é que nós, jornalistas, podemos declarar com orgulho: o jornalismo é o conhecimento, não do presente, mas da sociedade. Quando tudo o que resta para nós são ruínas da memória e fragmentos da linguagem podemos reconhecer nossa tarefa de produzir conhecimentos. Inscrever novas epistemologias – ou melhor, novas formas de olhar, de se relacionar e de escutar a realidade – em nossas produções noticiosas. Forçar o aparecimento de rachaduras no duro tecido que durante tanto tempo nos esforçamos em tecer, e colocar nele outras estruturas para imaginar a sociedade.
Queremos proclamar nosso trabalho e nossa contribuição para a sociedade. Em um período em que a existência está ameaçada, nossa busca por modificar a realidade não reside em acobertar, com a ambição de um discurso totalizador, as diferenças da sociedade corrigindo qualquer desvio e corroendo os empreendimentos de outras atualizações do hoje. Quando o desaparecimento assombra o nosso futuro, é preciso que o jornalismo busque nas existências que nunca foram atualizadas o conhecimento do possível.
A linguagem é árida porque assim a fizemos. É preciso esse momento de retornar com a vida nela e com ela – é urgente pensar um jornalismo não determinista, capaz de pegar ruínas da linguagem e, com elas, edificar estruturas para novos conhecimentos – conhecimentos sociais que gerem mudanças, ainda que de forma gradual, em um sistema que insiste em não mudar. Se não conseguimos revolucionar nosso conhecimento de forma abrupta e nem o tecido há muito construído, que possamos transformar lentamente as bases coletivas com saberes outros.

Wellington Felipe Hack é jornalista e Mestre em Comunicação. Doutorando em Comunicação no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSM. Integrante do milpa – laboratório de jornalismo (CNPq/UFSM) e bolsista de doutorado do CNPq.